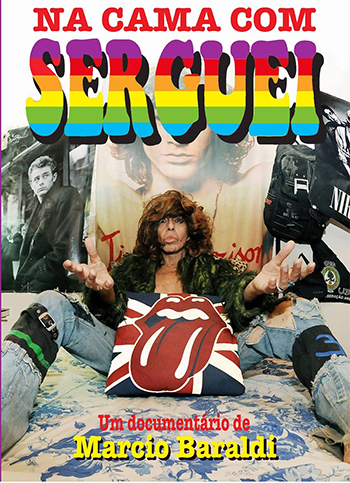Estrada – Mil Shows do Melvin – 354 páginas (Independente – 2019).
Estrada é a biografia de um jovem músico brasileiro, carioca descendente de portugueses, que adotou o rock alternativo (termo recorrente nos anos 90) como linguagem para se inserir neste mundo.

Mas, em primeiro lugar é preciso alertar ao leitor que não existe esse tal de Melvin! Se ele assinar cheques com esse nome, desconfiem. Melvin sempre será o nosso Miguel, o eterno jovem candidato a “rocker” que estudava no colégio Santo Agostinho no Rio de Janeiro nos anos 90, ou na mesma sala, não me recordo, de uma vizinha do andar de cima do meu prédio. Fui o seu professor de música, guitarra ou baixo, há tempos inconfessáveis. Conversamos muito, e quando precisei, ele se prontificou a me ajudar nas fileiras das bandas Usina Le Blond e Mustang.
Não há como medir a relevância do Miguel para a cena carioca de rock e da música alternativa nacional a partir dos anos 90. Ele sonhou, fez por onde, batalhou, investiu dinheiro, tempo, e ainda escreve, literalmente em um livro, uma inspiradora história de sobrevivência e foco. Ele é do rock, como se diz, mas Miguel é mais do que isso. Ele também é funk, samba, discotecagem (ainda existe esse termo?), e batucada. Consciente, aprendeu desde cedo que para tudo nesta vida é preciso de alguma política para fazer a roda girar. E assim, iniciado nas artes ocultas, além de fundar o Carbona, – “bubble-gum” como ele gostava de alcunhar -, Miguel tocou em e com várias bandas durante décadas. Sendo que o seu maior talento é que ele sempre se mostrou disposto a aprender. Aprender para ensinar.
Conversamos sobre este livro há alguns meses, antes mesmo do lançamento, e o papo rolou sobre “passar a tocha”… Mesmo que na maioria dos casos, isso não seja possível. Mas é necessário acreditar. Nem que seja um pouquinho.

Há várias passagens em Mil Shows do Melvin, – financiado por uma campanha -, que mostram um pouco da alma desse homem-menino que participou, mesmo, de mais de mil shows neste pedaço de chão chamado Brasil e em vários outros países. Miguel rodou muita estrada, enfrentou dificuldades, teve tantas alegrias quanto, e soube esperar e agir. Sim, não é fácil. Mas para isso é preciso mais do que boa vontade. Mesclam-se estrutura emocional e financeira, um pouco de coragem, bons relacionamentos, ingenuidade, oportunidades e muita sorte. Não necessariamente nessa ordem…
O livro Estrada é um diário de viagens com descrição de personagens e bastidores. Há passagens deliciosas (que não devo compartilhar porque seria bullying!) como a de ter tocado com os Buzzcocks e de ter se apresentado no CBGB. Há a história do anão (ladrão!), Los Hermanos, Autoramas, Dictators, Marky Ramone, a peça-ópera-rock Hedwig (que adoro até hoje), Monobloco, etc, etc, etc e etc. E nada menos do que isso.
Se há algum pecado no livro – se há – é o de “fazer” sugerir que todo mundo pode ser capaz de percorrer a mesma trajetória. Livros e biografias inspiram, mas não apresentam soluções. A vida ensina. Diariamente. Podemos conciliar algumas ideias, cruzar alguns caminhos, mas não há uma determinante que afirme que isso ou aquilo “dará certo”. Dar certo é ser, fazer. Seja para 5 ou 5 mil. E nesse quesito, Miguel – ou Melvin – tem sido muito bem sucedido. E que haja mais estradas para que os sonhos desse jovem-homem se transformem em mais realidades! Vai, Miguel! vai!